
Modernismo e América Latina
Como o modernismo chega aqui? Conversamos com Sabrina Moura para discutir se nós também já éramos modernos ou se, talvez, nunca tenhamos sido
No nosso último episódio traçamos uma espécie de genealogia da arte moderna – de um lado, o processo de industrialização, a ideia de progresso e desenvolvimento tecnológico, a consolidação dos centros urbanos; do outro, artistas que buscavam cada vez mais uma linguagem singular, que queriam desafiar os preceitos tradicionais da academia, que desejavam liberdade para novas formas de pintar. Dessa conjunção de elementos surge o impressionismo, centrado na figura de Édouard Manet, e com ele o estopim para toda uma nova série de novos movimentos artísticos e estéticos que se estendem nas últimas décadas do século XIX até o início do século XX. O que tem início com o impressionismo se desdobra em incontáveis efeitos colaterais, com a sucessão do que chamamos de vanguardas – estilos diferentes que pipocam pela Europa nos cem anos seguintes.
Estaríamos fadados à cultura da repetição?
E aí vem a nossa pergunta: O que acontecia enquanto isso no que chamamos de América Latina? Qual o papel da América Latina na modernidade? Como a arte modernista chega na América Latina? Ela de fato chega aqui ou nós também já éramos, de certa forma, modernos? Ou nunca fomos modernos? Por que olhamos tanto para a Europa como referência e padrão de visualidade?
Desde os tempos da colonização européia, a principal marca da nossa marginalização política, econômica e social, é a ausência da América Latina na história da arte universal. Segundo uma perspectiva de muitos pensadores eurocêntricos, nós, latino-americanos, estamos fadados a ser eternamente uma “cultura de repetição”, reprodutora de modelos, não nos cabendo fundar ou inaugurar estéticas ou movimentos que poderiam ser incorporados à arte universal.
O próprio termo América Latina serve para atrapalhar essa visão, pois refere-se amplamente aos países da América, incluindo o Caribe, cujas línguas derivam do Latim. No entanto, no Suriname, por exemplo, fala-se holandês, assim como nas Bahamas e na Jamaica fala-se inglês. Também não existe uma justificativa geográfica para o termo, pois não estamos falando estritamente do Sul, já que o México, por exemplo, já figura no que chamamos de América do Norte. Por isso, esse termo hoje é considerado muito problemático e impreciso, já que, em teoria, criaria uma identidade que, na verdade, reúne países muito diferentes entre si…
Por outro lado, existe uma experiência comum, do México à Argentina, que pode unir essas nações tão diversas: fomos todos sujeitos às conquistas coloniais, à escravização de povos africanos, ao extermínio dos povos locais e ao imperialismo que até hoje mantém a região – mesmo porque os efeitos desses processos são sentidos até hoje, no continente todo. Tratam-se de países com uma preocupante exploração ambiental e intenso desmatamento; nações produtoras rurais e sem desenvolvimento industrial ou de serviços; regiões marcadas pelo autoritarismo, populismo, desigualdade brutal – onde a miséria vive lado a lado com e riqueza acumulada em proporções inacreditáveis.
Walter Mignolo, um importante pensador argentino sobre a ideia de “latinidade”, diz que a “ideia” de América Latina é uma triste celebração por parte das elites “criollas” – descendentes de europeus nascidos por aqui – de sua inclusão na “modernidade”, ou seja, no processo de desenvolvimento tecnológico da industrialização, da expansão urbana, do êxodo rural, da “erudição” dos artistas! Mas a realidade é que essas elites se afundaram mais e mais na lógica da colonialidade.
A palavra “latinidade” englobava uma ideologia na qual se incluía a identidade das antigas colônias espanholas e portuguesas na nova ordem de um mundo moderno/colonial europeu. Ao pensar que arte moderna surge em meados do século 19, não podemos deixar de notar que ainda havia, no mundo, muitos países recém independentes ou que ainda eram colônia – pense em incluindo Cuba e Panamá e a maioria dos países da África que conquistaram suas independências apenas nos últimos 40 a 60 anos.
A verdade é que, por muito tempo, a História da Arte oficial nem sequer se considerou que pudesse existir uma arte Latino-americana independente, viva, válida. Em seu texto para a primeira Bienal do Mercosul, Frederico Morais relembrou uma frase infame de Henry Kissinger, que foi Secretário de Estado dos Estados Unidos entre 1973–1977: Nada de importante pode vir do Sul. A história nunca é feita no Sul. Só que a gente sabe que isso não é verdade – não foi verdade, e continua não sendo.
Essa narrativa é reforçada pela história da arte oficial, na qual consta que a modernidade chega na América por meio de artistas que – na falta de academias de arte, da abundância de colecionadores e patronos, de interesse por parte do governo e da população – viajavam para a Europa para estudar e, impactados pelas vanguardas que testemunharam, exposições que visitavam, artistas que conheciam. Eles voltavam para casa carregando essas referências na mala. Desta forma, a modernidade na América Latina, de um lado, é escrita como devedora da modernidade europeia, reiterando essa visão de que estamos fadados à repetição, e do outro, como uma caldeirão de misturas vibrantes, capaz de inventar sua própria modernidade.
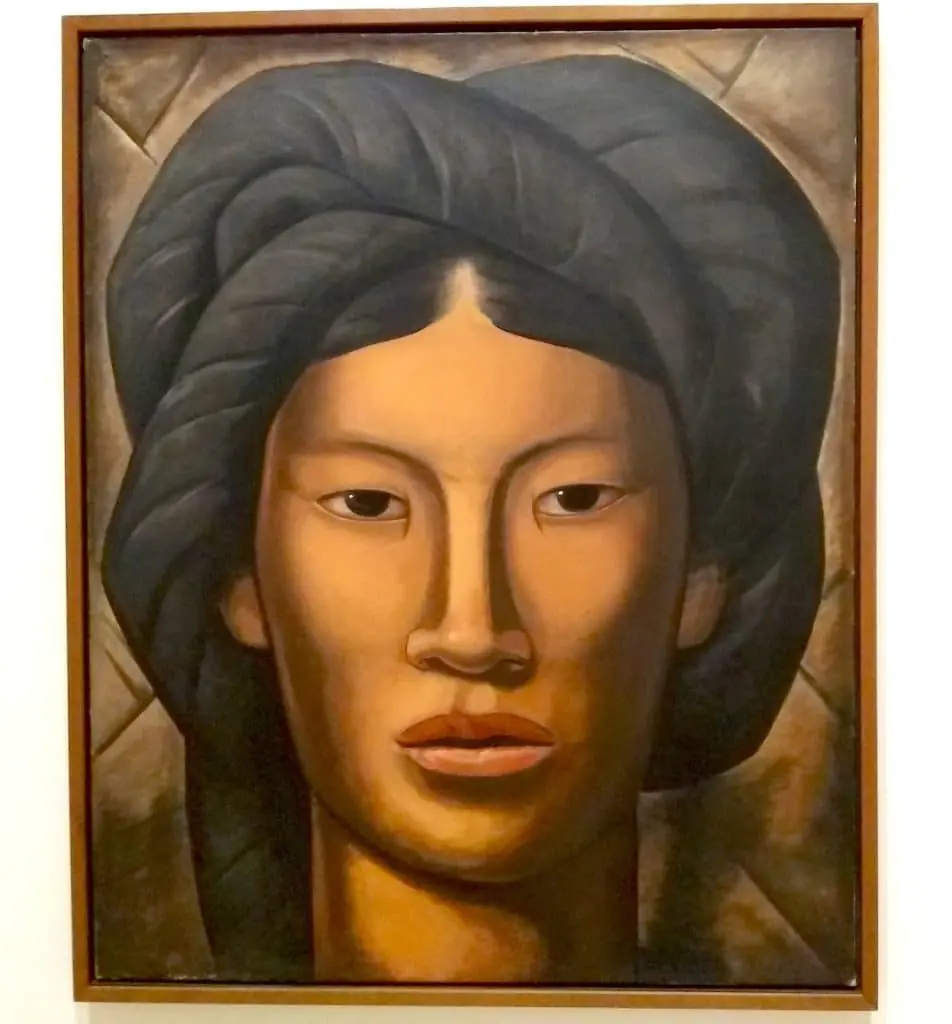
Mas seria esta a resposta correta? A verdade é que, industrialmente, a América Latina realmente sofre com a demora da modernização não só pela colonização, mas por processos de independências bastante retrógradas em algumas regiões (apesar das potentes transformações de Simon Bolívar e José de San Martin).
Historicamente, sabemos que a ideia de arte moderna foi sim importada de um lado, mas culmina numa contradição – a arte moderna latino-americana é, também, uma primeira tentativa de construção de identidades estéticas e culturais locais, regionais, que seriam erguidas não apenas sobre padrões visuais europeus, mas também sobre revisões do passado pré-colonial, sobre uma ideia de identidade nacional, buscando uma outra genealogia para a produção artística. A arte europeia pressupõe-se a si mesma como arte universal, e nós podemos ou integrá-la como aprendizes, ou seremos marginalizados (como aconteceu por muito tempo).
Hoje, no entanto, já é possível traçar como a modernidade européia é só uma parte da história e como nós temos não só artistas, como também arte, isto é teorias, estéticas. Teorias que não se aplicam só ao contexto latinoamericano, mas que podem servir como instrumentos indispensáveis à compreensão de todo o processo da arte moderna e contemporânea. O caminho reverso, inclusive, é possível!
Talvez tenhamos demorado algumas décadas para alcançar o calendário de vanguardas europeias, mas isso não significa que o que veio depois é apenas repetição, imitação, derivação. Só que existem outros desafios ao contar essa história. Acontece que: Brasil, Peru, Chile e Argentina não compartilham os mesmos antecedentes de modernidade, modernização ou modernismo. De acordo com Nelly Richard, pesquisadora e teórica chilena, o desenvolvimento das tendências culturais nesses e em outros países não foi homogêneo, nem uniforme, e a disposição de cada um para a modernidade seguiu dinâmicas regionais de forças e resistências específicas, não comparáveis. Alguns países, por exemplo, estabeleceram graus maiores ou menores de valorização da cultura indígena herdada – como é visível na modernidade mexicana.
Fonte

- Janeiro 27, 2026
Astecas na Cidade do Império: “O povo sem história” no Met


- Janeiro 27, 2026
A evolução da arte: do clássico ao digital

- Janeiro 27, 2026
O que são Artes Visuais e por que elas importam hoje

- Janeiro 27, 2026
Galeria selecionada de ilustração de artistas venezuelanos

- Janeiro 27, 2026
Galeria selecionada de caricaturas de artistas cubanos

- Janeiro 26, 2026
Livro da Bienal do Cartaz da Bolívia (BICeBé 2017)

- Janeiro 26, 2026
Galeria selecionada de pinturas de artistas peruanos

- Janeiro 26, 2026
Galeria selecionada de pinturas em aquarela de artistas peruanos

- Janeiro 27, 2026
A evolução da arte: do clássico ao digi…

- Janeiro 27, 2026
O que são Artes Visuais e por que elas …

- Janeiro 26, 2026
Primeiras manifestações artísticas

- Janeiro 26, 2026
Arte na Rua: Expressão, Identidade e Tr…

- Janeiro 25, 2026
gerador de texto para imagem com IA

- Janeiro 25, 2026
A muralista ‘desconfortável’ que retrat…

- Janeiro 24, 2026
A Inteligência Artificial como Ferramen…

- Janeiro 24, 2026
Inteligência Artificial na Arte

- Janeiro 21, 2026
Arte de Inteligência Artificial e seus …

- Janeiro 21, 2026
5 características mais marcantes do mod…

- Janeiro 19, 2026
História da pintura

- Janeiro 19, 2026
Condições e características da arte sac…

- Janeiro 08, 2026
A arte da caricatura na América Latina

- Janeiro 07, 2026
Linguagens, Estética e Significado da A…

- Janeiro 07, 2026
Arte na Rua como Forma de Expressão Soc…

- Janeiro 06, 2026
Simbolismo e Espiritualidade na Arte Sa…

- Janeiro 06, 2026
A Arte Sacra na América Latina: Encontr…

- Janeiro 05, 2026
A Importância da Arte na Sociedade

- Janeiro 04, 2026
Arte Gráfica: Muito Mais que Imagem, um…

- Janeiro 04, 2026
O Futuro dos NFTs e a Arte Gerada por IA

- Agosto 29, 2023
A história da arte Bolívia

- Fevereiro 19, 2024
Análise e significado do quadro d Noite…

- Janeiro 28, 2024
Cultura e Arte na Argentina

- Setembro 25, 2023
Qual é a importância da arte na vida do…

- Setembro 23, 2023
O que é pintura?

- Agosto 23, 2023
Os 11 tipos de arte e seus significados

- Agosto 10, 2023
14 perguntas e respostas sobre a arte d…

- Setembro 23, 2023
Características de pintura

- Agosto 30, 2023
Primeiras manifestações artísticas

- Janeiro 12, 2024
10 estátuas e esculturas mais bonitas d…

- Setembro 23, 2023
História da pintura

- Março 26, 2024
A importância da tecnologia na arte 1

- Julho 13, 2024
O impacto da inteligência artificial na…

- Março 26, 2024
Identidade cultural e seu impacto na cr…

- Abril 07, 2024
Graffiti na cultura latino-americana

- Abril 02, 2024
Históriaartes visuais no Brasil

- Abril 06, 2024
História das artes visuais no Equador

- Agosto 16, 2023
Os 15 maiores pintores da história da a…

- Outubro 18, 2023
História da escultura

- Março 05, 2024
A arte da escultura na América Latina

- Fevereiro 19, 2024
Análise e significado do quadro d Noite…

- Agosto 13, 2023
9 pintores latinos e suas grandes contr…

- Agosto 23, 2023
Os 11 tipos de arte e seus significados

- Agosto 10, 2023
14 perguntas e respostas sobre a arte d…

- Agosto 27, 2023
15 principais obras de Van Gogh

- Agosto 29, 2023
A história da arte Bolívia

- Janeiro 28, 2024
Cultura e Arte na Argentina

- Novembro 06, 2023
5 artistas latino-americanos e suas obr…

- Setembro 23, 2023
Características de pintura

- Setembro 23, 2023
O que é pintura?

- Setembro 25, 2023
Qual é a importância da arte na vida do…

- Março 26, 2024
Identidade cultural e seu impacto na cr…

- Agosto 30, 2023
Primeiras manifestações artísticas

- Dezembro 18, 2023
10 obras icônicas de Oscar Niemeyer gên…

- Janeiro 20, 2024
Qual a relação entre a arte e o Belo ?

- Janeiro 12, 2024
10 estátuas e esculturas mais bonitas d…

- Agosto 24, 2023
A imagem mais famosa de Ernesto "Che" G…

- Outubro 30, 2023
Características da Arte Contemporânea

- Maio 26, 2024
Técnicas de artes visuais

- Agosto 22, 2023


